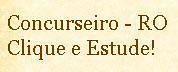Ela gere lei de incentivo e fundo cultural ao mesmo tempo, e pede maturidade na discussão do setor - Jotabê Medeiros - Maria Eleonora Santa Rosa é um pequeno dínamo da cultura mineira. Ajudou a criar as leis municipal e estadual de cultura e o primeiro estudo sobre o PIB da cultura do País, quando trabalhava na Fundação João Pinheiro, nos anos 1990. Secretária de Estado da Cultura de MG desde 2006, ela gerencia mecanismos que têm dado grande resultado no estímulo à produção e circulação de bens culturais em seu estado, como a Lei Robin Hood (que distribui a arrecadação do ICMS para prefeituras que têm projetos de patrimônio) e o Fundo Estadual de Cultura, que investe este ano cerca de R$ 24 milhões no seu Estado (R$ 9 milhões a fundo perdido).
Secretária de um governo tucano, elogia e alfineta tanto figurões do seu partido quanto do adversário, o PT. É sarcástica com os artífices de críticas à Lei Rouanet, mas também não alivia para o governo federal, gestor da legislação. Na sede da secretaria, o vistoso Palacete Dantas, em Belo Horizonte, Maria Eleonora recebeu a reportagem para uma conversa sobre o cenário da cultura em seu Estado e no País.
Minas investe cerca de R$ 115 milhões na cultura. Por que a sra. acha que o Estado tem de investir em Cultura?
São cerca de R$ 140 milhões. É importante dizer que não é uma soma expressiva...
E aqui em Minas, ainda por cima, há muitos exemplares do patrimônio histórico tombado...
O José Aparecido tinha uma frase extraordinária, porque é permanente, ele que foi o primeiro secretário da Cultura de Minas, quando a secretaria foi instituída pelo governo Tancredo, em 1983. E ele dizia o seguinte: que Minas Gerais detinha 60% do patrimônio histórico brasileiro. Nós temos um conjunto de patrimônio histórico e paisagístico que é absolutamente extraordinário. Diversas cidades que são patrimônio da humanidade.
E quanto isso consome do seu orçamento?
Uma parte ínfima. Primeiro porque são obras tombadas pelo governo federal. E acho que, muito recentemente, o governo tomou uma nova consciência a respeito do patrimônio histórico. Nos governos pós-64, particularmente na década de 70, quando não havia Ministério da Cultura, era o MEC, e não havia secretaria de cultura, houve uma pessoa extraordinária na estrutura do MEC que foi o Aloísio Magalhães. Que foi uma pessoa absolutamente fundamental para a idéia do patrimônio imaterial, do design, do patrimônio. Por causa dele, que era uma figura excepcional. Ele tinha uma consciência em relação ao investimento federal na preservação do patrimônio...
Havia também a visão nacionalista dos militares, que facilitava...
Evidentemente. Toda aquela visão subjacente àquele ideário golpista, relacionado à questão dos militares no Brasil. Bom, passado aquele período, a gente tem a Lei Sarney, a primeira lei do incentivo, mas já e claramente posta aquela atitute explícita do Estado relativa às suas obrigações, àquilo que a Constituição reza. Por que se há dúvida em relação ao que a gente chama de cultura emergente, não há qualquer dúvida em relação ao que a gente chama de cultura consolidada. Então, patrimônio, folclore, raízes, bandas: é obrigação do Estado brasileiro, é constitucional, está consagrado. Temos aí então já uma profunda defasagem em relação ao papel do Estado nessa questão. Então vem o governo Collor, aquele arraso, aquela incineração dos órgãos, das políticas. Um mal que vai demorar muito tempo para as pessoas entenderem o mal que foi a era Collor, não só na economia, mas sobretudo na cultura. O ônus que a era Collor trouxe para o Estado brasileiro na questão da organização institucional da cultura, um negócio pesadíssimo. E aquele mau hábito formado pela lei de incentivo - ele extingue a Lei Sarney, e a Lei Rouanet vem em 1991 e já vem com muitos problemas até se firmar em 1995. Nós tivemos uma coisa muito complicada em termos de cultura. Nós temos, aqui em Minas, uma experiência única no Brasil, desde 1997, que é Lei Robin Hood, que tira o ICMS de cidades de grande porte e aplica em cidades que fazem política de patrimônio. A gente chama de Robin Hood porque se trata de tirar dos mais fortes e dar aos fracos. E um dos critérios dessa lei é o ICMS cultural; municípios que aplicam em tombamento, em restauração, que têm educação patrimonial, ou formas de mobilização comunitária para a preservação dos bens, sejam eles de natureza material ou imaterial, eles têm uma divisão melhor no bolo do ICMS do Estado. Temos 853 municípios. Este ano, 2007, tivemos 658 municípios concorrendo ao partilhamento do ICMS em função de ações no campo do patrimônio. Eles são obrigados a enviar dossiês de comprovação de ações efetivas no campo do patrimônio. O Iepha (instituto mineiro do patrimônio) recebe essa documentação, analisa e pontua. Então, MG tem essa lei, a Robin Hood, voltada para o partilhamento melhor dos recursos do ICMS para aqueles municípios que tem uma política melhor para o patrimônio. É legislação da época do Eduardo Azeredo. São leis que são típicas e exemplares. Quando eu assumi a secretaria, havia um passivo enorme da ausência do Estado em várias áreas. O Fundo Estadual de Cultura, criado no ano passado, implantado em 2006, que tem uma parte reembolsável e outra não-reembolsável. Na parte não-reembolsável, a minha prioridade é o patrimônio.
A sra. também esteve na criação das leis de incentivo municipal e estadual. A sra. acha que hoje, essas legislações são insuficientes para cobrir a demanda da cultura?
Claro, sempre foram. Sou uma estudiosa das legislações culturais. Por obrigação profissional. Me formei na Fundação João Pinheiro, de onde me demiti no início dos anos 2000. Meu trabalho era no intuito não só de se pensar em como fazer políticas públicas culturais, mas em como ter recursos para fazê-lo. Porque sempre se imaginou que a cultura é uma questão de verbo, e não de verba. É sempre o território da retórica, da oralização, e pouco de investimento. É como se a área prescindisse dos recursos. E eu sempre achei o contrário: que é fundamental ter investimentos e recursos para poder implementar políticas públicas competentes.
Em geral, há um argumento economicista em relação a isso: há que se investir na cultura porque a cultura gera empregos, movimenta dinheiro, representa um valor significativo do PIB...
Essa dimensão econômica se inaugura com a gestão do Celso Furtado, como ministro da cultura do Sarney. Nessa época, eu estava entrando na Fundação João Pinheiro, era uma técnica, e foi quando se começou a discutir, por indução do Furtado, que contratou a fundação, sobre um estudo para se discutir a viabilidade da cultura no Brasil. Isso foi nos idos de 1987. Naquela ocasião, o CF era ministro, e é claramente quando ele entra nessa dimensão econômica da cultura - até por formação pessoal. Era uma área absolutamente desorganizada, informal, sem nenhum dado, nenhuma estatística, nenhuma série histórica construída, e por isso mesmo também, do ponto de vista oficial, totalmente frágil. Tanto é que uma das questões que a assessoria do ministro Gilberto Gil se bate muito hoje é com a 'institucionalização da cultura', porque na verdade, historicamente, essa área careceu de uma estruturação, organização, sistematização. Com o Furtado, surge o que a gente chama de dimensão econômica da cultura. E nesse caso, surgem os dois primeiros estudos: o da viabilidade do PIB da cultura. Qual é a mensuração disso? A gente sabe que é completamente distinto da indústria automobilística, do cimento, da construção civil. Difícil de medir, até pela questão da inteligibilidade, até porque a cultura se dá numa dimensão simbólica. Você tem de lidar com o tangível e o intangível. Até hoje, uma das grandes discussões que eu tenho com o Planejamento é: como criar indicadores e metas para a cultura. Eles não entendem que é uma dimensão simbólica, que é muito mais relevante do que o tanto que a cultura gera de renda e emprego, porque eu acho que é importante esse discurso, mas não é legítimo dizer que só esse discurso é legítimo...
O secretário da Cultura de SP, João Sayad, disse outro dia que acha louvável o argumento econômico, mas perguntou: e se a cultura não gerasse emprego, renda, dinheiro? Então ela deveria ser abandonada?
Exatamente. Concordo plenamente com o Sayad. E, vindo de um economista, me tranqüiliza. E espero que a afinidade dessa idéia prevaleça em outros contextos... (risos). Então, voltando um pouquinho: foi importante essa iniciativa do Celso Furtado, que foi pioneiro na preocupação com esses estudos. Foi o primeiro diagnóstico das indústrias culturais. Até então, havia um profundo preconceito da academia, da universidade, em relação às indústrias culturais. Isso foi feito pela área de economia da Fundação João Pinheiro, a minha área é a da cultura. Lá é cheio de departamentos. E esse primeiro estudo surge na fundação. Anos depois, já o Francisco Weffort ministro, na gestão Fernando Henrique, eu já era diretora da área de Cultura da Fundação, e nós recebemos a missão de fazer um estudo sobre os diagnósticos dos investimentos culturais no Brasil, divididos em três facetas: PIB, investimento de fundações e empresas com leis de incentivo, e gastos de municípios, Estados e União de 1985 a 1995. A data de 1985 foi escolhido por causa da redemocratização do País. Nós entregamos em 1997. Aquela foi uma primeira tentativa de organizar, de maneira consistente e bem concreta, a questão da cultura nesse viés. E, naquela ocasião, houve até um certo rumor, porque a área de Estatística da Fundação resolveu que o PIB cultural, no Brasil, era 0,8%, quase 1% do PIB nacional. Mas porque foi feito isso? A gente tinha base de dados, indicadores, índices, metodologia, e a partir disso você pode expandir esses resultados. Os estudos que têm vindo nessa direção ainda me deixam muito insegura em relação à base de dados. Essa nova pesquisa do IBGE, do ministério, é uma boa pesquisa, que determina as lacunas, as carências, os buracos. O meu discurso não é autenticador, restrito à dimensão econômica da cultura, embora eu, como secretária de Cultura, saiba bem como é, nas discussões com a Fazenda, com o Planejamento, introduzir o dado da geração de renda, do emprego. Mas eu mesma não tenho dados de Minas. No ano que vem sairemos com uma pesquisa, e aí poderei afiançar a base do que estou dizendo, mas hoje são ilações, coisas que posso dizer, sem grande insegurança, sobre como a cultura se reflete no turismo, no comércio, etc. A cultura tem um papel essencial. E não é só como promotora da imagem, fortalecedora da identidade, como espaço de negociação, de intercâmbio, mas de inclusão, de formação de cidadania. E acho que é muito importante que isso não seja travestido da questão da responsabilidade social da cultura. Isso é tão nefasto quanto você conectar a cultura somente à dimensão econômica.
A sra. fala de uma cultura com traços de CPC, engajada?
Acho isso um horror. A arte não tem que ser funcional. Ela não tem que funcionar para promover A, B, C ou D. Isso é um grande problema, porque virou, e sobretudo no governo federal ainda é uma questão complicada, essa coisa de reciprocidades sociais. Reciprocidade social, para mim, é acesso, é integração, democratização, circulação. Isso eu concordo. Agora, em que medida um projeto social tem de ter a obrigação de mudar a realidade social do indivíduo? É um certo figurino que foi moldado, de que todo projeto tem de ter 'responsabilidade social'. Não interessa em que medida. Só o Estado, só o poder público pode financiar pesquisa de laboratório, assim como pesquisa de linguagem artística de ponta, tecnologia de ponta aplicada. É preciso ter muito cuidado com o discurso 'social' da obrigação da cultura, como fator de transformação. É óbvio que ela tem essa capacidade, mas obrigação?
Acompanhei uma discussão, entre colegas, de uma regra que poderá ser acrescentada a uma nova lei de incentivo, que fala de relevância cultural dos projetos.
Complicado, complicado demais. Nós sabemos que, de boas intenções, o inferno está repleto. É muito delicado. Descamba rapidamente para o totalitarismo, dirigismo, stalinismo cultural. É muito complicado. A coisa da cultura engajada, da arte para o pobre... A mim me soa muito mal dirigismos de quaisquer espécies. Quando entrou pela primeira vez a questão da reciprocidade social da Lei Rouanet, ela não entrou por esse território que eu mencionei, mas por um território ideológico, quase de corroboração partidária. Tanto que a reação foi violentíssima, porque havia um cheiro de alinhamento partidário, e numa visão muito estreita do fenômeno cultural. Muito da cultura vinha a reboque, a serviço. Isso posso falar com a maior tranqüilidade. Sempre é muito delicado para o Estado. É preciso fazer a transparência das políticas públicas por meio de edital. Mas o edital só não funciona. Precisa ter orçamento bem consolidado, políticas muito claras, muito definidas, regras do jogo postíssimas, sem mudar no meio do caminho, ou oblíquas, e sobretudo formas de acesso equânime aos recursos. Isso sempre pode parecer meio falacioso, mas é preciso dar chance equilibrada de acesso. E o Estado tem de botar o dedo mesmo, tem de investir, porque ninguém investe.
Essa seria então a função maior de um fundo de cultura?
Com certeza. Primeiro, corrigir distorções absurdas de leis de incentivo. Posso falar isso porque sou autora de leis. A lei de Minas Gerais é muito interessante porque nasce numa conformação muito particular. Há três modalidades. Ela permite que devedores de dívida ativa paguem sua dívida - desde que a dívida esteja cadastrada até uma data tal, porque ninguém quer estimular para que fiquem devendo; também admite dívidas de terceiros. E contrapartida explícita da iniciativa privada. Entendendo que o incentivo deve ser posto como compartilhamento de responsabilidades, mas não como um cheque em branco para a iniciativa privada. Então, é claro, há uma resistência enorme do mercado. A produção cultural, no geral, tem vontade de ter uma dedução de 100%. Mas o meu público não são os produtores, é a sociedade. Isso é uma deformação barra-pesadíssima em secretarias de cultura. Até pouco tempo, o artista achava que ele era o público-alvo, que o Estado era uma caixa-forte que tinha de financiar um projeto cujo fim era o artista e acabou. Se tinha circulação, se tinha público, se tinha algum resultado, isso não era relevante. A questão era: eu tenho uma bela idéia, eu sou um gênio, eu tenho de ser financiado.
Mas talvez o Glauber Rocha agisse assim, e financiá-lo não deixaria de ser importante...
Eu não compartilho dessa idéia de que o dinheiro deve ir para grandes massas de consumo, que tem de financiar uma autor que dialoga apenas com grandes massas. Não é isso. Pelo contrário, sou a favor de pequenas minorias, não tenho esse maniqueísmo. Mas antigamente havia o péssimo hábito de se entender o Estado, io poder público, como uma grande caixa financiadora unilateral de projetos. Alguns desses projetos não necessariamente artísticos, mas da alimentação ególatra da posição individual do artista. Não se trata de financiar só aquilo que dá resultado. A gente tenta montar sobretudo linhas que possam atender a todos os setores. Fico até entristecida que a grande discussão fica sendo sobre financiamento. Toda essa polêmica que está havendo se trata de recursos a leis de incentivo e aos modos de financiamento. Quem tem discutido sinceramente modelos de estruturação institucional da área de cultura? Quem tem discutido sinceramente balanços de política pública de cultura? Organização do setor? Nós estamos completamente no patamar da discussão de verbas e sobre quais são os Estados que se beneficiam ou não.
Mas isso não se dá porque as verbas são insuficientes mesmo?
É claro que se dá. Mas é impressionante como a discussão é estéril. Eu fico pensando porque essa discussão não enseja algo maior, que é configuração do sistema público de cultura no Brasil. Seria um excelente mote. Vencida essa primeira etapa, quais são os recursos, é a configuração. Falo como gestora pública preocupada com o aparato institucional do Brasil na gestão da cultura. Qual é a vocação, o desenho do Ministério da Cultura? É muito ampla essa discussão. Por enquanto, é uma discussão de cegos.
Se a sra. estivesse à frente do MinC, acha que seria fundamental a criação imediata de um Fundo de Cultura auxiliar para a Lei Rouanet?
Completamente. Nós sabemos que os humores oficiais - posso falar isso porque sou secretária, sei dos humores oficiais - são voláteis. Isso tem fragilizado sempre a área da cultura, é sempre tratada como setor apêndice, perfumaria, não como setor estratégico, formador. É um olhar tortíssimo. Além de verbas, que é uma questão fundamental, há outras questões. É preciso ser realista. Imaginar que a solução para a Lei Rouanet é um fundo não contingenciável, é imaginar que a outra parte, a Fazenda, o Planejamento, Sou a favor de políticas viáveis. Mas a criação de um Fundo de Cultura que não padeça dos vícios do FNC, que é um fundo opaco, verticalizado e, do meu ponto de vista, sem operação daquilo que foi criado. Ele nasceu para corrigir os efeitos perversos da legislação de incentivo federal. Ele não tem corrigido, pelo contrário, agrava, pelas formas muitas vezes pela forma vertical e pouco transparente como é operada. As suas fontes de financiamento não irrigam também com a mesma robustez da Lei Rouanet. Estamos num beco sem saída. Extinguir a Lei Rouanet pura e simplesmente é uma idiotice. Isso é uma coisa de pessoas que não têm a menor noção de como o mercado cultural brasileiro hoje funciona. É demagógico, quando não mau-caráter. Tem de ter regras de transição. O Collor extinguiu a Lei Sarney e dizimou, o resultado foi terra arrasada.
Os resultados práticos das indústrias culturais irrigadas pelo dinheiro público da Lei Rouanet são inegáveis. Não se pode voltar atrás neles?
Tem de examinar com muita seriedade. Se esses resultados são positivos e para que e para quem que são positivos. OEstadodeSãoPaulo.